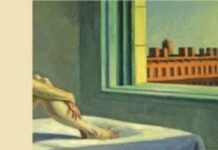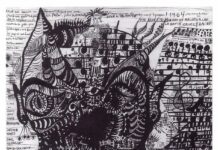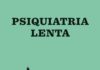Numa reportagem da jornalista Andreia Friaças, o Público dá destaque a um tema rodeado de preconceitos e silêncios: a esterilização das mulheres com deficiência.
Num trabalho que reúne histórias e posições de familiares/cuidadoras, profissionais, investigadoras/es e activistas, emerge a dualidade e o desfasamento entre a lei e a prática. Num primeiro plano, a lei portuguesa permite a esterilização mediante certas condições, mas nem estas são respeitadas.
De acordo com a lei portuguesa — artigo 10.º da Lei 3/84 — a esterilização (laqueação ou vasectomia) só pode ser feita por maiores de 25 anos, mediante declaração assinada, contendo a “inequívoca manifestação de vontade” e conhecimento das consequências deste procedimento. Abre-se uma excepção ao limite de idade quando existe uma razão de “ordem terapêutica”.
No entanto, a Ordem dos Médicos abre um precedente.
Em regulamento define, internamente, que a prática pode ser feita em “menores ou incapazes” se estiverem em causa graves riscos “para a sua vida ou saúde dos filhos hipotéticos”.
Em todos os casos, é exigido um parecer prévio do Conselho Nacional de Ética e Deontologia da Ordem dos Médicos, que disse não ter recebido nenhum pedido nos últimos oito anos.
No entanto, Rui Nunes, presidente da Associação Portuguesa de Bioética
defende que a esterilização não pode ser decidida pelas famílias ou médicos; apenas o poder judicial garante a imparcialidade e assegura que os Direitos Humanos, à luz da Constituição da República Portuguesa, são respeitados. “Se um hospital ou um médico não se socorre da autorização judicial, não estão a cumprir a lei”, conclui.
Em 2018, o regime de interdição — que permitia aos tutores legais tomar estas decisões — foi substituído pelo regime do Maior Acompanhado. Na teoria, privilegia a autonomia das pessoas com deficiência, considerando como “direitos pessoais” situações como casar ou procriar. No entanto, entre 2019 e 2022, o projecto Equal analisou a aplicação deste novo regime e concluiu (numa amostra de 752 casos de pessoas com deficiência) que 72% continuavam a não poder exercer responsabilidades parentais, incluindo perfilhar, adoptar e direitos reprodutivos.
No entanto, sem estruturas de apoio, com as/os familiares cuidadoras/es assoberbadas/os e sem respostas, “a esterilização continua a ser resposta a um conjunto de medos e desamparos”. Os receios das/os familiares não são infundados:
Em 2015, foi realizada uma das maiores investigações na União Europeia sobre a violência contra mulheres. Abrangeu os 28 Estados-membros e concluiu que cerca de 61% das mulheres com deficiência já tinham sofrido situações de assédio sexual — em grande parte, os casos nunca chegaram a ser denunciados.
Mas a esterilização tampouco as protege. A violência sexual contra mulheres com deficiência (e o silêncio à volta disso) não é desconectada da violência patriarcal que continua a marcar a nossa sociedade com a esterilização a ser outra forma como o sistema culpabiliza e castiga as mulheres. No caso específico da deficiência acresce-se, ainda, o preconceito a que a vivência da sexualidade continua votada nestes meios.
“A esterilização é consequência do nosso imaginário do que é uma pessoa com deficiência e a sua sexualidade. Continuamos a entender que não são capazes de tomar decisões”, afirma Sandra Marques. Para mudar esta situação, defende ser urgente apostar no modelo de capacitação — desde logo no acesso a uma educação sexual adaptada a pessoas com deficiência.
Nas palavras de Sara Rocha, presidente da Voz do Autista e vice-presidente do Conselho Europeu de Pessoas Autistas e do Comité da Mulher do Fórum Europeu da Deficiência:
“A visão da deficiência em Portugal continua a ser caritativa. Nós não precisamos de ajuda. Precisamos de direitos.”