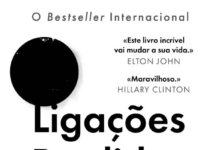Recentemente publicado pela editora Taiga (2024, pp. 119), “Psiquiatria Lenta”, de João G. Pereira, é um livro muito importante para quem quiser conhecer – numa linguagem simples, exaustiva e, no entanto, não privada de polémica – de que forma a psiquiatria atua no mundo e com que impacto, tanto a nível global como local, novas abordagens estão a difundir-se enquanto práticas alternativas.
O autor é psicoterapeuta e professor, conhecido também pela experiência de trabalho internacional, por exemplo, em departamentos de psiquiatria no Reino Unido e na Finlândia. Aqui, em particular, na Lapónia, após ter estado em contacto, em 2017, com o método de intervenção “Diálogo Aberto” [Open Dialogue], Pereira distinguiu-se depois pela implementação desta abordagem em Portugal, levando a cabo um primeiro projeto baseado nos seus princípios cardeais, seguido de outros de natureza semelhante, tais como as comunidades terapêuticas democráticas e os workshops internacionais do Living Learning Experience (LLE).
Nesta recensão, pretendemos discutir algumas das passagens mais marcantes deste livro, essenciais para um debate atualizado em Portugal, e não só, sobre a relação entre psiquiatria, democracia e saúde mental.

- O que é uma Psiquiatria Lenta
O título inspira-se numa expressão usada por Sandra Steingard (2019) – “psiquiatria lenta”, precisamente – à semelhança da oposição surgida em Itália, na década de 1980, entre Fast Food e Slow Food. Não é, no entanto, com base em receitas ou numa mera questão de “tempos de reação” (já que “lentidão não é inação”, como lembra o próprio autor) que se enxerta a oposição entre uma psiquiatria lenta e aquele que é identificado como o modelo “dominante” da psiquiatria. O que torna esse tal modelo como é não seria, de facto, tanto a sua tempestividade (a sua “eficiência”), quanto o modo industrial da “prestação de cuidados” a que indisfarçadamente adere e se refere. Notamos que a posição do autor é, neste sentido, explicitamente crítica:
A psiquiatria e a saúde mental no geral são hoje campos grandemente desumanizados, tecnocratas e burocratas, despidos de valores, focados nos «pensos rápidos» e na devolução dos «doentes» à máquina produtiva do capitalismo.
Pereira, 2024, p. 21
Como defendido por Pereira, a implantação desta lógica assistencial e “despida de valores” remonta à teorização do fenómeno da loucura enquanto “doença mental”, conduzindo assim a uma cultura psiquiátrica baseada na medicalização do sintoma e na observação de cérebros/indivíduos mais do que de sujeitos. A referência, na passagem acima referida, à “máquina produtiva” do sistema económico em que se inserem as práticas da psiquiatria e da saúde mental é crucial. O recurso a “pensos rápidos” (a indústria psicofarmacêutica), quando aplicáveis, é de facto incentivado num sistema que visa a negação e o apagamento prolongado do sintoma, do sofrimento, em virtude de uma reintegração tão rápida quanto possível nas lógicas de produção e consumo existentes – que, enquanto tais, não são passíveis de serem questionadas. Sabemos, assim, que aqueles que não podem – ou não conseguem – adaptar-se a tal sistema serão, por isso, chamados de “doentes”.
Da transformação da “loucura” em “doença mental” decorreriam dois fenómenos colaterais que acompanham a nossa perceção social da saúde mental (facilmente visíveis, aliás, na sociedade atual), que muitas vezes tornam crónico o estado daqueles que vivenciam uma experiência “anómala” da realidade na condição de “paciente”: o estigma e a desumanização.
A primeira consiste numa concepção categórica, e não dimensional, da saúde mental. Exemplificada, quase emblematicamente, numa fotografia acompanhada de um slogan cheio de boas intenções: ‘em Portugal, uma em cada cinco pessoas sofre de doença psiquiátrica’. 25 pessoas, 20 das quais com t-shirts brancas e cinco com t-shirts pretas, sensibilizariam o público ao “posarem” cromaticamente a respectiva condição de “doentes” e “saudáveis”. Como se o sofrimento não existisse também nas t-shirts brancas, ou como se as t-shirts cinzentas não existissem. A desumanização, consequentemente, depende da aplicação prática destas categorias no contexto relacional, onde a observação científica e “mensurável” da loucura compromete o sentido de humanidade inerente à relação de ajuda e oblitera a subjetividade daqueles que dela podem beneficiar, mediante uma redução de natureza “técnica” e necessária.

O estigma e a desumanização, assim concebidos, permitem-nos apreender a crítica do autor ao “Modelo Industrial de Saúde Mental” – no seio do qual (ou no vértice do qual) a psiquiatria se situa como disciplina hegemónica, dado que:
A superioridade e centralidade dada aos psiquiatras são claras e questionáveis, parecendo mais uma fonte de corporativismo profissional e interesses da indústria do que rigor científico ou boas práticas
Pereira, 2024, p. 25
Por outras palavras, a psiquiatria lenta baseia-se e inspira-se em práticas democráticas e alternativas de cuidados de saúde mental, baseadas nos direitos humanos e numa abordagem relacional do sofrimento mental. Reavalia profundamente o carácter vulnerável e dialógico em que os seres humanos participam e em que se constituem como tais. Segundo o autor, quem trabalha nesta perspetiva não pode deixar de sentir as contradições que se geram no conceito de “cuidados” de uma tal “máquina”, tanto em prejuízo daqueles que servem-se dela enquanto utentes, como daqueles que a servem enquanto profissionais. Por isso mesmo, embora a proposta de uma ‘psiquiatria lenta’ se oponha ao que representa o ‘modelo biomédico’ na saúde mental, tanto em termos epistemológicos como éticos, não pretende encarnar ou ressuscitar uma crítica anti-psiquiátrica. De facto, não se pretende enfrentar o modelo biomédico a partir de fora ou contra a psiquiatria, mas a partir de dentro da própria psiquiatria. Como o próprio autor faz questão de realçar, a ‘psiquiatria lenta’, antes, “quando muito, é antissistema, anti-arrogância, anti-hierarquia e totalitarismo, antiopressão e contra o reducionismo farmacológico” (p. 35). Desenvolveremos mais sobre este ponto mais adiante.
- Alternativas: o Diálogo (Aberto)
Apoiando-se no princípio da incerteza de Heisenberg – segundo o qual não é possível medir, ao mesmo tempo e com exatidão, a quantidade de movimento de uma partícula e a sua posição – o autor defende que, no campo da saúde mental, o princípio poderia ser traduzido da seguinte forma “quanto mais precisos tentamos ser na definição de diagnósticos ou planos de intervenção, mais distantes ficamos da pessoa à nossa frente e do seu mundo emocional” (p. 28).
Cuidar de uma pessoa parece significar, portanto, saber estar com ela para além do seu sofrimento psíquico e, ao mesmo tempo, para aquém dele; onde, por outro lado, os serviços psiquiátricos parecem ter como principal objetivo remover qualquer sintoma de “loucura” ou da dita “doença”, incentivados pelas exigências ‘aceleradas’ do sistema:
O problema da psiquiatria não é diferente de outros temas sociais, a educação, o jornalismo ou a política. A rapidez e a aceleração da vida e a exigência por respostas rápidas vindas de cima são arriscadas e levam a que, com alguma facilidade, floresçam as monologias e os totalitarismos
Pereira, 2024, p. 48
Para sair do impasse monológico da autoridade, que se exerce verticalmente com base em competências e responsabilidades por ordem decrescente, o autor considera urgente recorrer aos recursos da horizontalidade e à procura de um diálogo sem diferenças pré-definidas de saber/poder. Por outras palavras, reinventar as práticas de cuidados e as políticas públicas numa perspetiva democrática.
Nascida na Lapónia finlandesa no início dos anos 80, a abordagem do Diálogo Aberto contempla os seguintes princípios: “ajuda imediata; flexibilidade e mobilidade; responsabilidade; perspetiva de rede social, tolerância à incerteza, continuidade psicológica, dialogia” (p. 21). Perante a complexidade evocada pelo Princípio da Incerteza de Heisenberg, o livro defende que uma resposta válida à impotência do olhar clínico, antes de mais, consta numa atitude de “tolerância à incerteza”. De acordo com este princípio, o diálogo não é um meio neutral, mas um fim em si mesmo: não deve ser entendido como um instrumento auxiliar do diagnóstico (que possa abrir a subjetividade do outro); pelo contrário, é o que constitui a própria matéria da nossa subjetividade, permitindo-lhe dar-se como tal. O diálogo é desde já, por outras palavras, a forma da nossa abertura.
Partindo de outro ponto de referência sobre a natureza dialógica do ser humano, a filosofia da linguagem de Bakhtin, que afirma que “para a palavra não há nada pior do que a ausência de resposta”, Pereira reflecte sobre as possibilidades ‘monológicas’ (caracterizadas por um discurso pré-formulado) de intervenção em saúde mental e sobre a dimensão ‘polifónica’ do diálogo.
Segundo ele, esta dimensão está envolvida em qualquer processo terapêutico, pois “o diálogo não é feito só de palavras; (…) ser dialógico implica ser responsivo, abrir o discurso, expandir as ideias, escutar, construir ou, melhor ainda, co-construir significados, pontes e avenidas. A qualidade oposta seria a monologia, o discurso que fecha, que oprime, que impõe autoridade ou, melhor dizendo, que é autoritário, totalitário” (p. 74).
Para o autor, é no espaço intersubjetivo que se desenrolam os dramas e traumas responsáveis pelo sofrimento psíquico individual. Por isso, tal como ocorre com a “doença”, o mesmo teria que ocorrer à forma como entendemos a “terapia”, ou a cura. Por outras palavras, esta última não pode deixar de ser intersubjetiva e plural. Isso encontra-se mencionado, por exemplo, no encontro com o Sr. Pierre (um senhor francês desiludido com o sistema nacional de saúde em França), o qual se apresentou numa das unidades dirigidas pelo autor, em busca de respostas alternativas. Se nas práticas dos serviços de saúde mental a dimensão monológica é a norma, e de modo algum a exceção, a polifonia defendida pelo Diálogo Aberto em direção a uma “formulação clínica co-construída” encontra-se assim exemplificada:
À medida que fui ouvindo o Sr. Pierre, fui perguntando o que diria a mulher se estivesse presente, o que diria o filho mais novo e/ou o que diria o mais velho, fui trazendo as vozes da família mais próxima e também outras que não pareciam tão óbvias (…). Fui perguntando quem faria sentido convidar para uma próxima conversa (…). Se seguisse o formato tradicional, eu teria focado a conversa nos sintomas do seu filho, procurando psico-educar o Sr. Pierre para um qualquer processo psicopatológico, para um diagnóstico e para a necessidade de uma intervenção (…). E, desta forma, eu não só seria «desafinado» e arrogante como partiria o processo terapéutico em várias partes, colocaria a saúde nos pais e a doença nos filhos, perderia a oportunidade de criar diálogo e ligações, perpetuaria, e eventualmente até agravaria, a manifestação dos sintomas.
Pereira, 2024, pp. 66-67
Nesse sentido, as Comunidades Terapêuticas Democráticas e a perspetiva de formação oferecida nos workshops de LLE representam soluções alternativas de intervenção. Enquanto estas últimas funcionam com o intuito de oferecer ferramentas “para apoiar o staff na construção de ambientes terapêuticos e saudáveis, aprendendo experiencialmente sobre processos sociais e de grupo” (p. 56), no mesmo espírito, as Comunidades Terapêuticas Democráticas baseiam-se no já referido princípio da tolerância à incerteza e na prática dialógica da intervisão, mais do que da supervisão, trabalhando a cultura de grupo que se gera na instituição. Trata-se de “um espaço de desenvolvimento pessoal” onde o staff – como o Diálogo Aberto recomenda – “não fala das pessoas que ajuda sem estas estarem presentes” e “pode refletir e reconhecer os aspectos que podem estar a influir com o trabalho clínico” (p. 59).
No entanto, ao referirmo-nos à alternativa democrática representada pelas comunidades terapêuticas, faz-se necessária uma desambiguação. Em Portugal, apesar do assunto merecer obviamente uma discussão mais aprofundada noutro contexto, de facto, a abordagem de que o autor se faz intérprete não é de todo partilhada pela boa maioria deste tipo de serviços (como de resto foi documentado também no Brasil), em parte por razões que já vimos, em parte por razões que ainda tentaremos vislumbrar, ainda que o autor não se detenha muito sobre isso no seu texto.
- Saúde Mental em Portugal
Este livro tem o mérito de abordar, em particular, o sistema psiquiátrico nacional português. De facto, é do ano passado a Nova Lei de Saúde Mental (2023), destinada aos “portadores de anomalia psíquica” (sic). Uma formulação, esta, que o autor considera evidentemente inaceitável:
Uma lei que aspira a ser progressista, mas que utiliza um termo destes no seu Artigo 1° parece ser uma lei retrógrada, discriminatória e, acima de tudo, não pensante (…). Parece no mínimo ofensivo chamar de «anomalía psíquica», ou mesmo «doença», uma estratégia vital de sobrevivência!
Pereira, 2024, p. 48
A Nova Lei – como relata o autor – entre outras coisas, integra e substitui a última lei em vigor (1997) no que respeita às disposições sobre internamento compulsivo, ampliando as medidas que desincentivam o seu uso, mas considerando-o necessário em último recurso, nos casos mais graves. Com esta perspetiva o autor concorda, substancialmente, embora não deixe de considerar essa mesma perspetiva (a do internamento) uma questão extremamente problemática e divisiva, na qualidade de dispositivo de redução da liberdade. E numa “medicina defensiva”, em que a responsabilidade de decidir o internamento cabe muitas vezes inteiramente ao psiquiatra, aqueles que são institucionalizados para alcançarem paz encontram-se, na maior parte das vezes, num contexto desumanizador: um inferno, e não o “santuário” que deveria ser enquanto lugar terapêutico, sanciona o autor.
Não menos importante é também o sistema de financiamento dos centros psiquiátricos, que atribui mais subsídios em função do número de camas e de pacientes acolhidos.
E assim, sistema, profissionais e utentes colidem na co-criação do sistema de porta giratória, onde se entra e se sai rapidamente e com mais um trauma, apenas para voltar passados 15 dias ou um mês, porque nada ficou resolvido, tudo se agravou.
Pereira, 2024, pp. 52-53
O autor chama a atenção não só para os utentes, mas também para os jovens médicos e para as dificuldades de quem serve em psiquiatria, para as responsabilidades que os psiquiatras têm de assumir, para além das condições sociais em que nascem, crescem e se formam, antes de exercerem a sua atividade em serviços e instituições de saúde mental. Este contexto é a borderland, ou “terra do desespero”, como lhe chamou o psiquiatra Coimbra de Matos (um ponto de referência para Pereira, que o menciona várias vezes ao longo do texto). Tal como os doentes, estes jovens trabalhadores: “vêm de famílias inseguras (…) Cresceram em escolas onde o desenvolvimento cognitivo e a competição foram privilegiados, em detrimento da colaboração e do desenvolvimento afectivo e relacional. Desenvolveram-se num mundo social que assiste à comodificação das instituições, à crescente influência e dependência das redes sociais, ao foco crescente no narcisismo, na gratificação imediata das necessidades e no consumismo/escapismo” (p. 41).
E é este panorama que não é de modo algum criticado pelas perspectivas da investigação em psiquiatria. De facto, as práticas que decorrem da adesão ao modelo biomédico são acompanhadas por teorias e correntes de investigação alimentadas por financiamentos que não produzem mudanças significativas na já referida borderland. Por exemplo, Pereira relata que, em 2005, o psiquiatra e neurocientista Thomas R. Insel (então diretor de uma das mais importantes organizações de saúde mental dos Estados Unidos, o NIMH) decretou que os investimentos em investigação passassem a ser todos alocados ao campo das neurociências. Treze anos depois, ele próprio se declarou arrependido, afinal, pela escassez dos resultados obtidos, quer em termos de hospitalizações, quer em termos de recuperação ou de luta contra o suicídio. Resultados insatisfatórios, portanto, tanto do ponto de vista da prevenção como do prognóstico, que não parecem ter sido devidamente encarados, segundo o autor, uma vez que o próprio Insel – e com ele muitos outros – não deixaram de acreditar que o cérebro está no centro das dinâmicas psicopatológicas às quais (alegam) remedeiam, no exercício das suas profissões ou investigações.
Perante os 88 milhões recebidos em 2023 pelo PRR (Plano de Recuperação e Resiliência) no campo da saúde mental em Portugal, Pereira acredita que poderia haver um grande ‘desperdício’ se a estes esforços não se juntasse um maior investimento numa formação diferente no campo da saúde mental e dos sectores profissionais envolvidos, uma formação mais heterogénea, como o leitor terá entendido, num sentido dialógico e intersubjetivo.
Não existem dúvidas sobre a necessidade imperativa da criação de equipas comunitárias, como, e muito bem, está a ser feito em Portugal pela nova Coordenação Nacional das Políticas de Saúde Mental. (…) No entanto, se não se mudar a forma de trabalhar, a centralidade actual na doença e no comportamento individual, a hierarquia presente dentro das equipas, com forte dependência da figura do psiquiatra, e, mais importante, a divisão entre staff e utentes, que no sistema biomédico culmina invariavelmente numa relação do tipo perito (activo)/ doente (passivo), a dinâmica de cuidados individualista vai manter-se, comprometendo fortemente as possibilidades de mudança nos sistemas sociais, que desta forma irão ganhar pouco ou nada.
Pereira, 2024, p. 57
Num sistema onde prevalece uma psiquiatria rápida, sustentada por lógicas industriais e de hierarquização profissional, é urgente refletir sobre práticas e políticas de intervenção democrática no campo da saúde mental. Este livro, como já foi referido, não pretendendo ressuscitar neste sentido uma crítica anti-psiquiátrica, apresenta entretanto perspectivas valiosas para a sua discussão nos serviços e na opinião pública relativamente ao tema do sofrimento psíquico. O autor, na qualidade de psicoterapeuta, identifica o diálogo e a polifonia da relação como elementos-chave dos cuidados, apelando a uma maior formação neste sentido. Não que isto não tenha interesse para psiquiatras ou profissionais que trabalhem em serviços de saúde mental. Pelo contrário, talvez seja precisamente o sofrimento psíquico, na mesma democraticidade com que atinge tanto os seus utentes como os seus profissionais, que permitirá à perspetiva enaltecida neste livro circular entre os responsáveis e obter a atenção que merece.